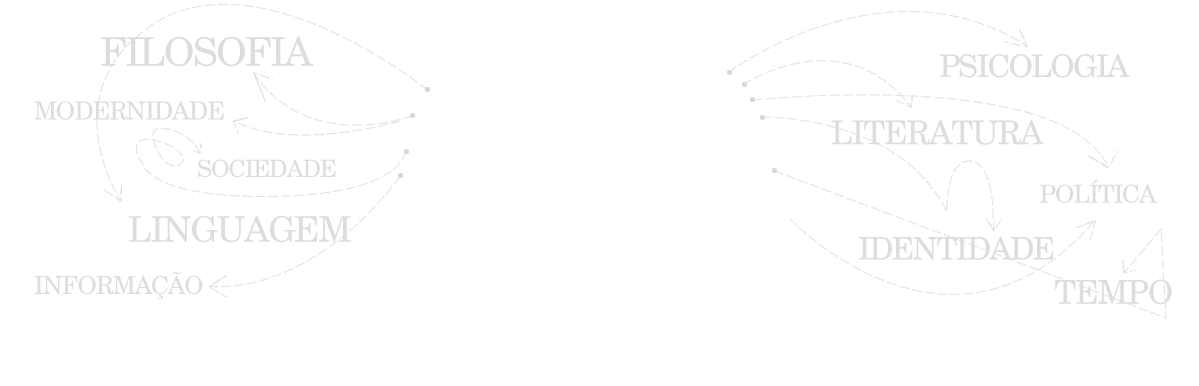Palácio
O palácio que sou eu, e nas paredes do qual estou confinado, embora seja externamente delimitável, visível a olho nu, tem em suas entranhas uma infinitude que cresce â medida que é explorada.
Por fora, a divisão entre mim e o mundo possui precisão atômica; as paredes de meu palácio são biologicamente exatas, e entre o que chamo de “eu” e o que chamo de “outro” existe um abismo incontornável.
Por dentro, guardo em mim um universo repleto de supernovas, de estrelas surgindo a partir do caos que me habita. Esta anti-matéria que constitui meu âmago subjetivo não comporta expectadores diretos, de forma que reste a mim duas opções apenas: ou digiro meu próprio caos, que é muito mais sublime e complexo do que às vezes posso suportar, e transmito a outros seres sua versão mastigada, reduzida e deformada, ou deixo-o trancafiado nos cantos mais obscuros de mim, vivendo, assim, na superfície.
Tenho percebido que a vida toda escolhi a segunda alternativa, sempre de maneira passiva e irrefletida. Vivi na superfície para não me excluir da companhia daqueles que me cercam, para obter deles a validação intersubjetiva. Podei minha própria profundidade e complexidade em nome do direito de ser real, em nome do medo de uma existência sozinha e incompreendida.
Já a primeira opção, a de mergulhar em minhas próprias questões e delas expelir algo novo, sublimado, é o que chamo de arte. Mas fazer arte não é tarefa leviana. Porque fazer arte de suas próprias entranhas, arte sincera e visceral, exige coragem. Exige uma coragem que tem me faltado nos últimos meses, em que tenho me alienado de mim mesmo e cedido à insegurança. Deixei que o sentimento de insuficiência, com vestes de preguiça e desinteresse, me tirasse a minha maior liberdade, que é a escrita. Pois cada vez que eu me afundava nos recônditos que me preenchem, eu me via inundado por uma complexidade maior que eu; uma complexidade que nunca exerci publicamente, que sempre deixei enterrada e adormecida, por não me oferecer reconhecimento, por me impossibilitar companhia. A cada tentativa de digerir meu caos, eu me via esmigalhado pela insuficiência, pelo fracasso antecipado que sequer me permitiria tentar o sucesso. Futuros que nem ao menos tiveram a chance de virar presente. E, incapaz de me recompor, de exercer as minhas potencialidades, eu me deixei ser imobilizado pela inércia cada vez mais, tornando-me refém de minha própria covardia. Impotência retroativa que se alimenta do turbilhão que agita as minhas galáxias internas, e que a todo instante me sequestra do agora.
Por isso escrever me exige coragem: pois uma escrita de peito e alma não se constrange diante da expectativa de rejeição, não se censura pelas vaias de uma plateia silenciosa e incerta. Escrever é percorrer o meu íntimo e colocá-lo em palavras para o mundo, sem qualquer medo ou pudor, sem a preocupação asfixiante de ser incompreendido. Pois será justamente o receio de não ser habilidoso o suficiente para organizar e expor com beleza e completude o meu palácio o responsável por fazer com que eu próprio acabe me trancando para fora, junto a quem habita meus jardins externos.
A única maneira de tocar verdadeiramente aqueles que me visitam, que têm em si seus próprios castelos e suas próprias masmorras, é abraçando sem medo as minhas supernovas e trazendo um pouco delas à luz, na escrita. “Canta a tua aldeia e serás universal.” A veracidade desta afirmação é minha única esperança de ter visitas: pois só não estarei sozinho dentro de meu próprio palácio se as pessoas, ao me ouvirem e ao me lerem, puderem, com isso, percorrer o interior de suas próprias paredes. A empatia é muito mais que um mero dever moral: é a única hipótese de não-solidão; de habitar o mundo em conjunto, de descobrir a parte de você que habita no outro. Só por meio da empatia se pode compreender o outro verdadeiramente, sem reduzi-lo à imagem rasa que se faz dele. Um mundo sem empatia é um mundo de pessoas que convivem solitárias, cada uma delas presa à sua própria bolha, cega e incomunicável.
A comunicação profunda e verdadeira é a única forma de romper com a solidão da existência humana. Mas não se adentra outros palácios sem antes conhecer o seu próprio a fundo, sem saber qual é a ponte que liga o seu mundo aos dos outros. E aventurar-se por sua infinitude interior é algo que se pode fazer apenas sozinho, pois só você tem acesso à escuridão estocada dentro de si. Soa deliciosamente paradoxal: para romper com a solidão, é preciso antes fazer dela sua amiga; e, assim, desbravar a si mesmo sem medo do peso das próprias verdades, que, mesmo sem querer, você esconde tão bem de si mesmo. E então, se ainda assim quem estiver em seu jardim não for capaz de vislumbrar o que está dentro das janelas, de compreender o que e quem é você, aí ao menos você tentou — e tem a si mesmo para continuar explorando o próprio mistério que chama de eu.
Este texto pertence ao livro Calma Tormenta.